FANTÁSTICO
Antecipação e fantástico entrelaçam-se, como gavinhas numa trepadeira e bebem nas mesmas fontes:
- No “feérico” e no “maravilhoso”: das gravuras de Épinal ao Roman du Renard (1175-1250), das Fábulas de La Fontaine à eclesiologia de Nicolay Afanassieff, do pavor colorido de Johann Ludwig Tieck ou Adelbert Von Chamisso, às moralizações de Perrault e de Grimm, procurando encantar e edificar as crianças.

Um dos mais famosos contos de Charles Perrault, ilustrado por Gustave Doré
O maravilhoso, tanto o róseo como o terrificante, sempre marcou, aliás, a vida dos povos na difusão de lendas populares, por norma de tradição oral em quase todos os diversos locais e culturas do planeta.
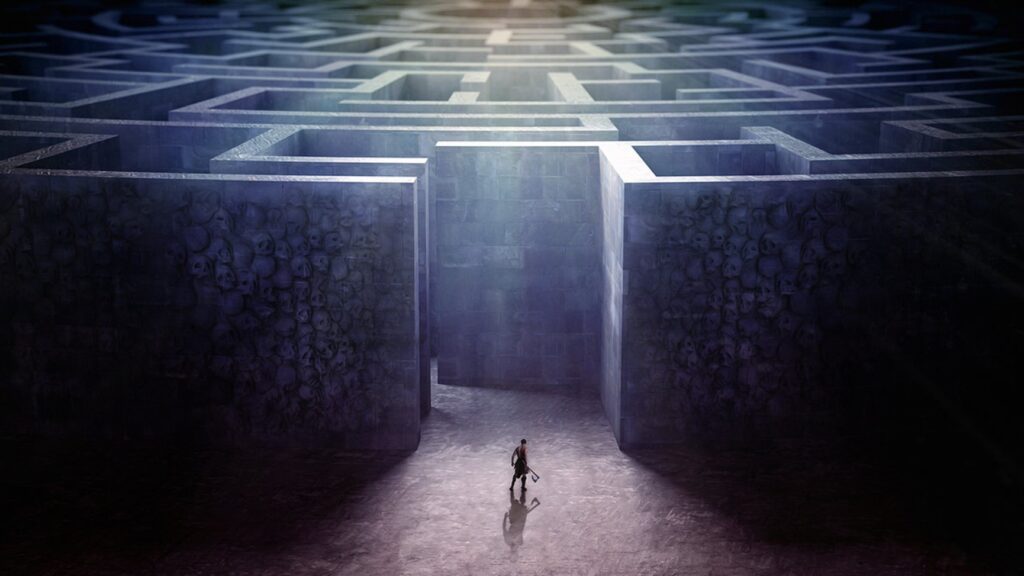
- Surgem da noite dos tempos, inspirando mais tarde, a obra literária de Jorge Luis Borges ou Isaac Bashevi Singer, de Gustav Meyrinck ou Sir Richard Burton chegando mesmo a criar novas demiurgias, como o fizeram, entre tantos, Sir James Barrie (Peter Pan) ou John Ronald Tolkien (The Fellowship of the Ring). Edificaram por vezes universos heroicos e aventureiros, genialmente imaginados por nobres defensores de impérios coloniais (que, como sabemos, nunca foram imaculados).
Nestes últimos, o recitativo segrega o seu próprio espaço, as suas próprias leis, as suas próprias personagens.
- Nas “superstições populares do petit peuple”: das “lamias” de Apollonius de Tyanna e Philostrato aos Vlad Drakul, Voïvode da Valáquia, de La Bête de Guévaudun de 1765, aos “Baobhan Sith” dos Highlands, do enciclopédico Malleus Malleficorum, redigido em 1485 por dois dominicanos, Jacques Sprenger e Henry Institoris, por ordem do Papa Inocêncio VIII e depois deturpado, treslido pelo povo, magnificado, transformado, enfim, no primeiro “Livre de Poche” da História. Lúcifer em distribuição ao domicílio.
- No conflito (ou encantamento) da queda no horror, no inexplicável, sempre presentes na história humana: da Noiva de Corinto e do Erlkönig, de Goethe (este transformado em canção por F. Schubert), do Les Tombeaux de Paris de Alexandre Dumas ao Horla e La Morte de Maupassant.
O que leva Tzvetan Todorov e Sigmund Freud, cada um a seu modo, a fundarem este género de criação literária em pulsões de sexo e morte. Das quais o vampirismo é a mais evidente.
- Não deveremos esquecer, também, o interminável cortejo de premunições mediúnicas, pressentimentos, terrores irracionais, alucinações, sentimentos de uma influência irresistível de alguém invisível, delírios e sonhos de alerta, tão caros (também) à psiquiatria e à psicanálise.
O sofrimento cósmico do Conde Szémioth, no Lokis de Prosper Mérimée, ou o horror das crianças martirizadas (ou não) no Turn of the Screw de Henry James.
- E, ainda, do contributo do mistério (quase policial) e da tragédia grega, nas melhores obras do género, de Montague Rhodes James a Howard Philips Lovecraft, de André Delorde a Stephen King, bem ilustrado no conto The Legend of Sleepy Hollow, de Washington Irving[1]. Ou, o mais terrível de todos, The Dealings of Daniel Kesserich (concebido em 1937, mas só publicado em 1997), de Fritz Leiber.
As experiências estilísticas a que se presta o fantástico, do horror induzido ou explícito; o enigma, de ressaibos ocultista, teosófico, iniciático, metapsíquico; a crítica política ou o humor negro, até a poesia pura, são simplesmente intermináveis.
Seria absurdo tentar resumir este género em poucas páginas, pelo que me limito a repetir alguns dos seus temas mais frequentes: licantropia, vampirismo, possessão demoníaca, existência de Doppelgängers ou íncubos e súcubos, necromancia, satanismo, feitiçaria, maldições e venda da alma, zombies, alterações de causalidade de espaço ou do tempo, de regressão a níveis inferiores (animal, pedra, manequim), o tema angustiante do jardim ou casa maléficos em si mesmos, o renascimento de ciências blasfemas, oriundas de civilizações extintas ou meramente antigas.
Resta ainda o génio inidentificável, patente em obras como Les Chants de Maldoror, de Isadore Ducasse, dito conde de Lautréamont, cujo titanismo romântico não o qualifica, a meu ver, para este género literário (contra o que afirmam Vaclav Czerny e Léon Pierre-Quint)[2].
De William Blake, nem me atrevo a falar.

FANTASY, HEROIC FANTASY
Quando falamos de fantástico, de literatura conjetural ou de antecipação penetramos num mundo de fronteiras ambíguas, que se entrecruzam permanentemente e onde a idiossincrasia do classificador (mais do que qualquer outro critério) estabelece as fronteiras entre uma e outra.
Vivemos num mundo onde a urbanização e as novas tecnologias aceleradas mudam, em poucas semanas, a zona da cidade onde vivemos e crescemos, onde em qualquer centro comercial de bairro, as crianças podem (sem ou com consola) matar dragões, esquartejar seres humanos com espadas vórtice, lançar rios de fogo sobre planetas inteiros. Vestidos de E.T., Drácula, Frankenstein, Mummy ou Birdman com mais rigor do que o de um cenarista de Terence Fischer ou George Romero.
Onde a banalização de ghouls, elfos e feiticeiros, anda a par com os Darth Vader e os cavaleiros Jeddi.
O êxito, que não esmorece, antes aumenta, deste tipo de literatura de evasão, da sua frenética transposição para o cinema, televisão, jogos de computador, todos de sucesso mais do que assegurado, as intermináveis adaptações, de obras de Clive Barker ou Harlan Ellison, Lovecraft, Graham Masterton, Stephen King e centenas de plagiadores de terceira e, por vezes, segunda[3], tem um aspeto por tal forma multifacetado, plástico, ambíguo que é autónomo e não é. Que o digam Roger Zelazny, Anne McCaffrey, Robert Silverberg, Clifford Simak e, sobretudo, os autores do projeto enciclopédico (coordenado por Robert Lynn Asprin) “Thieve’s World”, de 1979, obra-prima nesta espécie de conto de fadas para o século XXI: Lynn Abbey, Poul Anderson, Marion Zimmer Bradley, Joe Haldeman, John Brunner, Andrew Offutt, Christine Dewees.
Repare-se que não é por acaso que, nos EUA, o Halloween é muito mais festejado (pelo menos pelas crianças) que o 4 de Julho, o Thanksgiving e o Natal.

POLICIAL, TERROR
Também aqui literatura, cinema e BD se multiplicam, em traduções estéticas por vezes conseguidas, de antecipação e policial, obras híbridas dos dois géneros, como “Seven Days in May”, de John Frankenheimer (1964) political-fiction inteligente,[4] mas sem nos fazer esquecer a qualidade de “Kiss Me Deadly”, “Seconds” (“Second Chance” de David Ely), de 1966, com Rock Hudson, “A Clockwork Orange”, 1971, de Stanley Kubrick, black mask atroz sobre a delinquência juvenil e a sua repressão, num sofisticado futuro eduardiano, ainda mais decadente que o dos nossos dias.
Outra criação, esta de verdadeira ficção científica (fundindo os dois temas-obsessão que o marcaram toda a vida: Fundação e Robots), devida ao inimitável racionalismo de Isaac Asimov, desdobra-se em inúmeras obras de qualidade, baseadas muitas delas em temática policial dedutiva (detective story, na mais pura subordinação aos cânones de Van Dine). Uma série de romances (“Caves of Steel”, “The Naked Sun, “The Robots of Dawn”, “Robots and Empire”, “Robot Visions”) com os mesmos protagonistas: o primeiro entre todos, o Robot-Detective, R. Daneel Olivaw, oriundo de umas das cinquenta ex-colónias espaciais galácticas.
Acolitado por um terrestre, Elijah Baley, que vive, entre onze mil milhões de habitantes numa Terra claustrofóbica, racista, robotfóbica e hiperpovoada. Sinistro universo subterrâneo de Morlocks puritanos, onde a austeridade que a parcimónia de recursos impõe, torna as pessoas más, carrascos fanáticos, mumificados em códigos e rituais insuportáveis.
O terrestre DI Elijah Bailey[5], simpático, honesto e aberto à mudança da polícia profissional, pouco ou nada pode mudar neste oprimido clima em que vive.
Estilo vivo, recriação razoável das condições de vida de planetas de sistemas antitéticos de sociedade, à maneira Asimov.
Os cinquenta planetas Exteriores, aristocráticos e com um medo pavoroso dos germes que os terrestres das cavernas devem transportar consigo.
A Terra, já o disse, com excesso de população, enterrada no subsolo, neurótica, claustrofóbica em relação ao Sol, superfície, viagens espaciais, vivendo em austeridade concentracionária, por opção dos pavores com que povoou o seu pobre mundo subterrâneo, em autarquia espartana, por receio de inventadas radiações e poluição na superfície da Terra, infiltrada de grupos clandestinos de fanáticos racistas anti-robô.
É obra que mereceria continuação por um autor à altura de Asimov. O que, aliás, acabou por acontecer, com jovens escritores que continuaram o ciclo do Império de Thrantor e dos Robots, imaginado por Asimov.
Como Asimov, inúmeros nomes da science-fiction escreveram excelentes obras de crime e mistério passadas no futuro: Poul Anderson, Barry N. Malzberg, Alfred Bester, Robert Lee Hall, Brian Aldiss e muitas centenas mais.

VULGARIZAÇÃO CIENTÍFICA
Já teve a felicidade de ler os dois livros do Reverendo que assinava Lewis Carroll (Charles L. Dodgson), sobre a sensata Alice?
Adorou (como eu) os malabarismos “lógicos” que aí encontrou, o jogo de xadrez camuflado de “Behind the Mirror”, as invenções e conceitos de uma semântica a que não estava habituado?
Se viu um documentário (ou artigos) sobre as engenhosas teorias de Langevin, Jean Painlevé, descrevendo seres sem espessura (de duas dimensões), aliás já descrito, em 1884, por Edwin Abbott, apreciou as ideias e especulou sobre as suas (deles) Weltsanschauungen, sobre os seus modos de viver, lazeres, religiões, com os amigos?
Acha, no seu íntimo, que os codescobridores da geometrias não-euclidianas (Riemann e Lobatchevsky) são uns génios (como, claro Albert Einstein e o seu E=mc2); gosta do vulgarizador muito Oxcam, que é Stephen Hawkings e das suas teorias sobre o Universo; admira o astucioso Carl Sagan e os seus conceitos sobre vida alienígena inteligente, lendo “Broca’s Brain” e “Contact”?
Leu tudo o que lhe caía sob os olhos, desde que falasse das 4ª e 5ª dimensões de um continuum inusitado; artigos ou livros de Adamski e Bergier e Pauwels sobre O.V.N.I.S. e adora falar de “antimatéria” e “buracos negros”, da memória do ADN?
Até comprou e tentou entender as obras de vulgarização científica de Asimov e Richard Feynman, os anéis de Moebius, as escadas sem fim de Piranèse, de um universo de geometria variável?
Transformou X-FILES, Millennium, Babylon 5, Star-Trek, Star Wars em séries de culto, não para compensar a cinzenta monotonia de urbanite middle class, mas para tentar perceber, em cada episódio, o que poderia haver de possibilidade científica no guião?
Viu por acaso os quatro filmes da série “Alien”, os nove da “Star Wars”, o “E.T.”, o “Minority Report“? E gostou?
Alegre-se, será um eterno adolescente e está maduro para se tornar um apaixonado da chamada antecipação científica.
Porque, mais do que todos os outros, poderá visionar o mundo que aí vem, se a sofreguidão, sede de poder e sadismo de uns quantos, não destruírem primeiro o planeta.
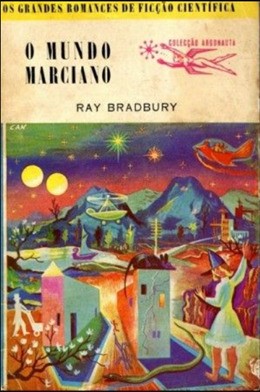
A Web fará desaparecer, desde a infância, a noção de distância. A noção de Humanidade unificar-se-á mais. Como um todo pensante, não como um puzzle de segmentos sociais, interminavelmente em conflito.
Os computadores acabarão com a necessidade de empregar transporte físico para obter informação, muita da cultura, divertimento, educação. O maior receio não é de que a máquina, robot ou computador, nos cause danos, mas que nos suplante. Ciborgues, próteses rejuvenescedoras quase integrais, em suma, onde acabará o homem e começará não sabemos ainda bem o quê[6].
O prolongamento da vida humana (para os muito ricos, pois custa caríssimo) graças ao desenvolvimento constante (em curso acelerado, já hoje) de simbioses protéticas entre as células humanas e máquinas informáticas, produto de técnicas que criam vida inorgânica, acabará por transformar a natureza do homem, metamorfoseando-o num ciborgue, misto orgânico e inorgânico de próteses (que não serão já dentaduras, óculos, ou corações e rins transplantados, mas muito, muito, mais).
Estas metamorfoses da condição biológica e técnica do homem, se não forem acompanhadas, desde o início, de idêntica mutação em códigos éticos e de solidariedade cívica (para muito melhor e de modo mais cominativo) poderão redundar numa tragédia que será o epílogo da espécie humana.
Há séculos que inúmeras obras de ficção antecipativa nos andam alertando para isso.
Carlos Macedo
[1] De onde de onde resultou um filme (A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça, de Tim Burton, com Johnny Depp, Michael Gambon e Miranda Richardson).
[2] Para maior aprofundamento do tema, recomendo a leitura de alguns autores-chave neste campo: ainda nos finais do século XVIII Ludwig Tieck, Ludwig Achim Von Arnim, E. T. A. Hoffmann, M. G. Lewis, Washington Irving, Jan Potocki, Daniel de Foe. No século seguinte, a dificuldade está na escolha: Edgar Allan Poe, Walter Scott, Mary Wollstonecraft Shelley, Joseph Sheridan Le Fanu, Robert Louis Stevenson, Henry James, Gustav Meyrinck, Montague Rhode James, Charles Nodier, Prosper Mérimée, Guy De Maupassant, Alexei Tolstoï, Bram Stoker, Arthur Machen, Fitz James O’Brien, Charles Robert Maturin, Charles Dickens, E. F. Benson e, já em plena transição para o século XX, Saki, Selma Lägerlof, Ambrose Bierce, Algernon Blackwood. Neste, prolongando-se até aos nossos dias sob a benéfica sombra tutelar de Jorge Luis Borges, de Howard Philips Lovecraft e do belga Jean Ray, entre tantos e tantos, destaco, sem pretender ser exaustivo: Donald Wandrei, Adolfo Bioy Casares, Thomas Owen, Stephen King, Graham Masterton, Robert Bloch, Augustus Derleth, Brian Lumley, Carl Jacobi.
[3] Seja em horror ou em gore, sempre adaptadas ao cinema; a aparição de operas-rock de temas fantásticos (sem ser o eterno reeditado “Phantom of the Opera”) ou de um gótico assumido, como diversas obras de Tim Burton (o primeiro “Batman”, “Batman Returns”, “Edward Scissorhands”, “Sweeney Todd”), o romântico de Roger Corman (“Ligeia”, de Poe), as alucinações de William Burroughs (“The Naked Lunch”, de David Cronenberg), os “Matrix” e “ExistenZ”, os “Frankenstein” (de James Whale a Kenneth Branagh), o “Dune” de David Lynch, a versão Michael Radford de “1984”, de Orwell, “The Omega Man”, baseado no famoso “I’m Legend”, de Richard Matheson, 1971, realizado por Boris Sagal, inúmeros filmes de dragões, por vezes protagonistas das estórias, na esteira da sempiterna Ann McCaffery e tantos outros, dão-nos uma ideia aproximada do dinamismo dos géneros.
[4] Cuja qualidade consegue aguentar o peso de ter sido baseada numa obra do insuportável Mickey Spillane.
[5] Que podia ser um Marlowe ou um Foyle, nos dias de hoje.
[6] Os “Silver Eggheads” da obra de Fritz Leiber (1961, USA) são já uma realidade, desumanos e desapiedados, com os seus PowerPoint e ratings, no tenebroso mundo ultraliberal onde vegetamos.











