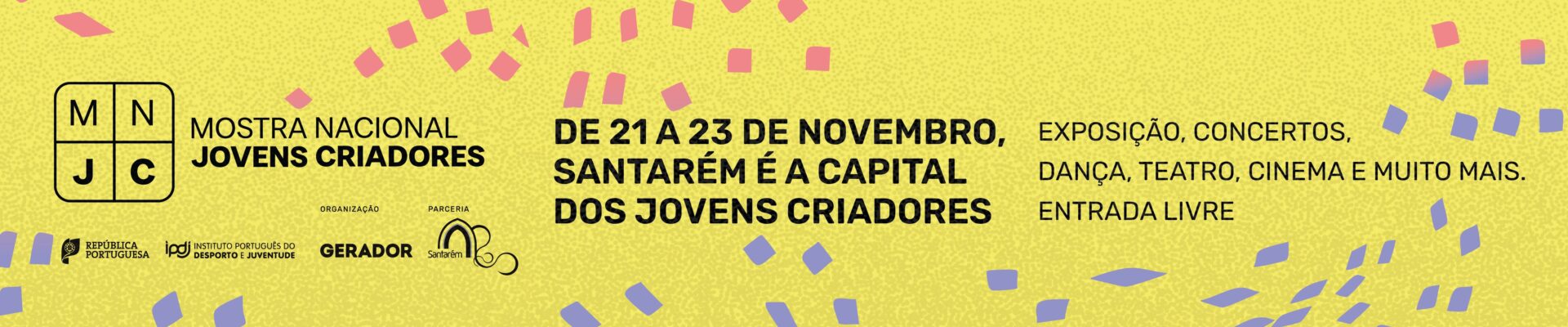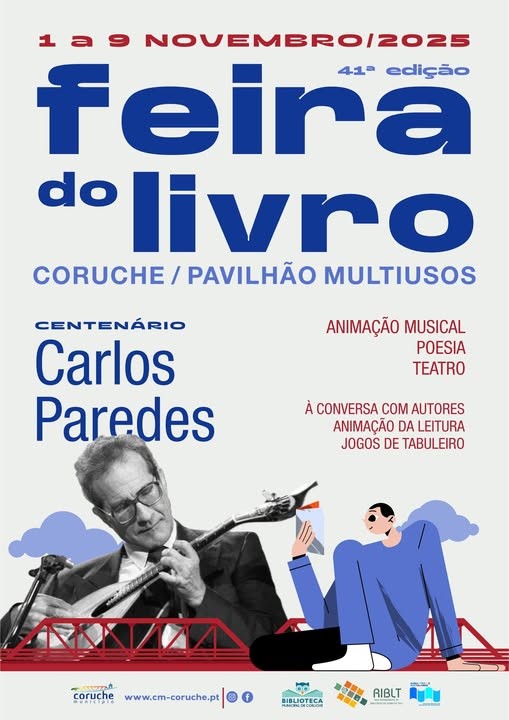Anthony Giddens, nome sonante da sociologia a nível mundial, com traduções de obras relevantes em português, apreciado e contestado pela sua tese sobre a Terceira Via, obra de tese que Tony Blair perfilhava, foi escolhido para ser o último conferencista do século XX de um conjunto de reportadas conferências organizadas pela BBC. O tema que ele escolheu foi a globalização, onde procurou analisar de onde se partiu e como o fenómeno estava já a restruturar seguramente as nossas formas de viver, graças ao digital, à evolução da ciência e tecnologia, as relações interpessoais, a cultura e tradição, a religião e política, umas transformações benignas outras carregadas de ameaças: O mundo na era da globalização, Anthony Giddens, Editorial Presença, 2000.

Na introdução, o sociólogo não esconde o seu espírito de humor citando uma frase do arcebispo Wulfstan, num sermão proferido em York, no ano 1014: “O mundo está a aproximar-se velozmente do fim.” Uma frase tremenda que tem hoje muitos adeptos, e não só entre os fanáticos religiosos. É como se fosse uma chamada de atenção para o nosso período histórico de transição, que tem um fortíssimo antecedente: “A nossa época evoluiu sob o impacto da ciência, da tecnologia e do pensamento racionalista, que tiveram origem na Europa setecentista e oitocentista. A cultura industrial do Ocidente foi moldada pelas ideias do Iluminismo, pelos escritos de pensadores que rejeitavam a influência da religião e do dogma, e que, na prática, queriam substituí-los por formas mais racionais de encarar a vida.” Um modo de pensar em que vivemos integrados, sempre numa expetativa de que o mundo se iria tornar mais estável e mais ordenado. Há grandes surpresas sobre a evolução da globalização, já nos anos 1980, quem viajava pelo Tibete ou pelas profundezas da Amazónia via a população local entusiasmada a ver uma série de culto na época, Dallas. Dos anos 1970 para 1980, apareceram ameaças ambientais globais, um grande número delas foi séria e positivamente enfrentado, resolveu-se a desflorestação alterando as fontes de emissão das minas, criou-se o conversor catalítico, pôs-se termo às substâncias responsáveis pela rutura da camada de ozono, esta, foi uma decisão que mereceu consenso unânime dos governos, das indústrias e das comunidades.
É certo que a crescente globalização fez emergir manifestações radicais, não se poderá hoje estudar o surto de populismos sem ponderar como as nações perderam uma boa parte da soberania que detinham e até os políticos perderam muito da sua capacidade de influenciar decisões (veja-se, no caso português, o papel que o PPR tem em todos os projetos de desenvolvimento, foi uma aprovação de Bruxelas negociadas com as autoridades portuguesas, estas obrigadas a cumprir à risca o que foi aprovado, sob pena de perderem os apoios financeiros. Há céticos também à globalização também à esquerda, reclamam, tal como na direita e na sua extrema, a retoma de todo o processo soberano nacional. Acontece que o volume do comércio externo atingiu tal expressão, dependente de dinheiro eletrónico, economia em que se transferem grandes somas de capitais com um simples carregar de botão, e, como diz Giddens em 1999, os mercados financeiros globais movimentavam então mais de um trilião de dólares por dia, e o valor do dinheiro que temos no bolso, ou nas nossas contas bancárias, muda de momento a momento, de acordo com as flutuações registadas nesses mercados. A globalização é política, tecnológica e cultural, além de económica e está determinada pelo progresso dos sistemas de comunicação, registado a partir do final da década de 1960. Já não precisamos de cabos transatlânticos ou transpacíficos, agora utiliza-se a tecnologia dos satélites.
A globalização não é só comércio nem economia, imiscui-se na nossa vida, alterou as relações familiares, levou ao reaparecimento das entidades culturais em diversas partes do mundo. Analisando o colapso do comunismo, observa o sociólogo: “A globalização explica porquê, e como, o comunismo soviético teve de acabar. Até uma data que coincide mais ou menos com o início da década de 1970, a antiga União Soviética e os países do Leste da Europa compararam-se ao Ocidente em termos de taxa de crescimento. A partir de então, ficaram rapidamente para trás. O comunismo soviético, concentrando esforços nas empresas estatais e na indústria pesada, deixou de ter condições para competir na economia eletrónica global. Do mesmo modo que o controlo ideológico e cultural exercido pelas autoridades políticas comunistas também não teve condições de sobrevivência numa época de informação global.
As desigualdades entre países e nos países acentuaram-se, países em vias de desenvolvimento correm riscos ecológicos devido a práticas económicas de empresas transnacionais. E o sociólogo observa que éramos a primeira geração a viver nesta sociedade.
Faz uma apreciação muito curiosa sobre o que separa o risco do perigo. O primeiro é inseparável das ideias de probabilidade e de incerteza, a segunda refere-se a perigos calculados em função de possibilidades futuras. Alguém já escreveu que vivemos num mundo mais seguro, mas muito mais arriscado, na justa medida em que alteramos mais, construímos mais, consumimos mais, a expansão dos riscos provocados pela atividade humana tornou-se uma séria questão política, não prever riscos pode levar à queda de governos. “Viver numa época global significa a necessidade de enfrentar uma série de novos fatores de risco. Em muitas situações temos de ser mais atrevidos do que cautelosos no apoio que dispensamos à inovação científica ou a outros tipos de mudança.”
Numa outra comunicação que Giddens fez na BBC desmontou o peso histórico nas transições, e recordou que “à medida que a transição e os costumes vão perdendo peso à escala mundial, a própria base da nossa identidade – a consciência de quem somos, altera-se. Em situações mais tradicionais, a consciência de quem somos é em grande parte sustentada pela estabilidade do estatuto social que os indivíduos ocupam na comunidade. Onde a tradição falha, e onde prevalece a escolha dos hábitos de vida, a consciência individual não é isenta. A identidade própria tem que ser criada e recriada numa base mais viva do que antes.”
E, na sequência de outros trabalhos em que abordou as transformações da vida familiar e dos desafios democráticos, revelou que estão a processar-se mudanças extraordinárias no conceito de família e no aprofundamento da democracia, tudo graças à globalização que, como nós podemos constatar, é um processo em desenvolvimento, basta pensar agora na inteligência artificial.
De leitura obrigatória para o entendimento do mundo em que vivemos.
Mário Beja Santos